Sabia que as plantas têm um sistema imunitário? Até há pouco tempo, a comunidade científica também não o aceitava. Agora, é um dos temas mais competitivos na investigação em plantas.
Há 20 anos ainda ninguém falava sobre a imunidade nas plantas: ou não era conhecida ou, simplesmente, a comunidade científica não a aceitava como possível. “Neste momento deve ser uma das áreas mais competitivas em investigação de plantas na Europa”, disse ao Observador Cyril Zipfel. O investigador considera este tema um “assunto fascinante”, mas quando iniciou o seu percurso académico não poderia imaginar que ele próprio seria uma referência na área.
“A grande conquista da minha carreira foi a demonstração de que as plantas usam os mesmos recetores que a imunidade inata nos animais para vencer os micróbios”, contou o diretor do Laboratório Sainsbury, no Reino Unido. “Há 10 ou 20 anos isto não era aceite pela comunidade científica. O que temos feito nos últimos 10 ou 15 anos é demonstrar que este sistema é realmente antigo, que é conservado em todos os reinos, e que é realmente muito importante para permitir que os organismos se defendam.”
Cyril Zipfel explicou ao Observador que “a imunidade inata é muito antiga”, existindo, muito provavelmente, nos vários grupos de organismos, ainda que tenha evoluído de uma forma independente em cada um deles. A base desta imunidade inata, e a semelhança entre os vários grupos, é que os organismos são capazes de reconhecer uma molécula, uma célula, um organismo (ou parte dele), como estranhos e reagir de forma a defenderem-se.
“Foram precisos muitos anos e o trabalho de muitos laboratórios para convencer a comunidade científica de que a imunidade inata não só existia, como era importante”, referiu o investigador que agora lidera um grupo que trabalha sobretudo na base molecular da imunidade inata das plantas. “Agora está estabelecido, está em manuais escolares, é ensino nas universidades e tornou-se uma área de investigação muito ativa e competitiva.”
O investigador esteve em Portugal, a convite do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, da Universidade Nova de Lisboa, num semináriodirigido aos alunos do primeiro ano dos programas doutorais do instituto. “É sempre bom falar com os alunos”, referiu o professor. “Eram alunos do primeiro ano que ainda têm de escolher um projeto e o que querem fazer depois. Foi interessante discutir como eles como tomam estas decisões.” E o próprio Cyril Zipfel, como terá ele tomado a decisão de seguir esta área científica?
— Como decidiu que queria trabalhar com o sistema imunitário das plantas?
Na verdade, fiz um percurso um pouco estranho. Estudei Biologia geral em Estrasburgo, durante dois anos, mas depois quis mudar para ser um engenheiro florestal, como o meu avô e o meu tio. Fui para Nancy estudar Ecologia Florestal, mas odiei. O bom deste curso – e de todos os cursos em Nancy – é que, entre os dois anos, tínhamos de passar o verão no laboratório, a fazer um estágio. Felizmente, o laboratório para onde fui, tinha um projeto que era mais molecular. Gostei mesmo do projeto em que participei e durante o verão decidi que não queria voltar a estudar Ecologia Florestal, por isso pedi para trocar de curso. Normalmente, não é possível, mas eu tinha boas notas. Queria seguir uma via de estudos em Biologia Molecular, mas não tinha conhecimentos de base (os do primeiro ano). Disseram-me: “Podes fazê-lo, mas se falhares a culpa não é nossa”. Eu fiz e resultou.
Depois fui fazer um mestrado em Paris em Biologia Molecular Vegetal – este, sim, realmente especializado em plantas. [Em 2001,] entrei num programa de doutoramento internacional num instituto de biomedicina em Basileia, na Suíça. Éramos um grupo pequeno dedicado às plantas, mas era bom estar sempre exposto ao trabalho que se fazia em cancro ou imunologia. Comecei a trabalhar com imunidade das plantas no meu doutoramento e nunca mais parei. Um ou dois anos antes de começar o doutoramento, aquele laboratório tinha feito uma descoberta importante: identificaram um dos primeiros imunorrecetores em plantas. Depois esta área cresceu. Eu estava lá no momento certo.
Trabalhei com plantas por acaso. Nunca houve uma razão principal para trabalhar com plantas. A única coisa que sempre me motivou foi “sinalização”, em qualquer sistema. É fascinante ver como uma célula pode reconhecer um sinal e transmitir esta informação. Isto sempre me entusiasmou. Depois do doutoramento considerei continuar a investigar imunidade, mas deixar as plantas. Mas tive a oportunidade de ficar bem colocado em Inglaterra para fazer um pós-doutoramento em imunidade de plantas e depois fiquei com um lugar de coordenador de grupo de investigação no mesmo instituto.
— A imunidade inata das plantas pode ser comparada com a imunidade inata nos animais?
Conceptualmente é semelhante. Não interessa se é um inseto, um rato, um humano ou uma planta, o organismo tem de ter capacidade para identificar uma coisa que seja potencialmente perigosa, seja um micróbio ou algo do próprio organismo que normalmente não está presente. Todos os organismos têm imunidade inata, que é a forma mais comum de os organismos se defenderem. As plantas não têm imunidade adquirida [não produzem anticorpos, nem têm células de memória, como os humanos, por exemplo].
Quando nos cortamos há libertação de algumas moléculas que sinalizam que aconteceu algo “perigoso”. As plantas têm um sistema semelhante: em resposta a lesões também vão desencadear respostas que são semelhantes às do [nosso] sistema imune. Não são exatamente as mesmas proteínas, mas têm muitas semelhanças, usam mecanismos biomecânicos idênticos.
— E o que é exatamente esta imunidade inata nas plantas?
Não confere memória. O poder da imunidade adquirida é esse: se somos expostos a um micróbio quando somos crianças, vamos ser imunes a esse micróbio toda a vida. A imunidade inata é uma resposta desencadeada no momento. Se nos cortamos e uma bactéria entrar na ferida é reconhecida imediatamente e induz uma resposta.
Uma deteção local, naquele instante, é o que acontece nas plantas. Vai desencadear uma série de respostas imunes para restringir o crescimento do patogéneo. Às vezes não é suficiente para parar a infeção, mas vai reduzi-la. Mas não é adaptável. A bateria de recetores que temos está connosco desde que nascemos (assim como nas plantas, insetos ou outros invertebrados). Já a imunidade adquirida é moldada pelos micróbios a que somos expostos ao longo da vida.
A resposta inicial vem sempre, quer seja um patogéneo ou não. O mecanismo limita-se a dizer à planta que há algo que não lhe pertence, que lhe é estranho: “Há qualquer coisa perto de mim, que não sou eu, e que é potencialmente perigoso”.
A planta induz uma série de respostas imunitárias, que podemos medir. Algumas demoram alguns minutos, outras algumas horas. Um dos exemplos são os radicais de oxigénio, que são potencialmente tóxicos para os micróbios. A grande diferença entre as células vegetais e as células animais é que as células vegetais estão rodeadas por uma parede celular e caso estejam perante um patogéneo, podem reforçar esta parede, que é uma resposta local.
Também há produção de metabolitos secundários, compostos tóxicos ou antimicrobianos, que vão restringir o crescimento ou matar o patogéneo. Sabemos que tudo isto acontece, mas não sabemos qual o mecanismo mais importante, o que está realmente a afetar os patogéneos.
— A imunidade inata nas plantas é mediada por células ou por moléculas?
Por ambos. A grande diferença entre animais e plantas, em termos de sistema imunitário inato, é que as plantas não têm células móveis. Nós temos células móveis que são especializadas em imunidade, mas nas plantas as células são todas capazes de reconhecer micróbios. Não há células especializadas, à partida, todas as células são capazes de reconhecimento imunitário. Em todas as plantas.
Isto é suficiente para mediar o reconhecimento localmente: a célula percebe imediatamente um micróbio que se encontre por perto. Mas também há um sinal que percorre toda a planta, desde o ponto em que entrou em contacto com o micróbio, e que faz com que toda ela fique imune. A resposta imunitária não é só local, mas sistémica.
A resposta local é imediata, demora alguns milissegundos. A indução da resposta imunitária noutros pontos da plantas pode levar algumas horas, porque é preciso sintetizar os sinais, estes têm de ser transportados e têm de ser reconhecidos. É para isso que serve a resposta imunitária sistémica: se um perigo é detetado num local da planta, outro pronto está preparado para dar resposta. Mas mesmo que isto demore alguns dias, a resposta imunitária que é dada só será eficaz durante alguns dias, é temporária.
As células das plantas estão ligadas umas às outras por plasmodesmata [canais microscópicos na parede celular]. Esta é uma forma de comunicação entre células que permite a passagem dos sinais. Adicionalmente, os sinais podem ser produzidos no exterior da células e ser propagados pelo espaço intercelular [entre as células], onde se liga depois a recetores no exterior das células. Estes sinais também podem ser transportados pelo tecido vascular [vasos condutores], como acontece com o nosso sistema circulatório. A identidade dos sinais ainda é altamente controversa, ainda não se sabe bem o que está a ser transportado.
— A reação aos micróbios é a única forma de desencadear esta resposta imunitária?
Esta resposta é desencadeada por micróbios – bactérias ou fungos, por exemplo -, mas também com insetos. De facto, este sistema imunitário foi descoberto graças aos herbívoros. Quando eles começavam a comer uma folha, a resposta podia ser detetada noutro ponto da planta.
Isto acontece localmente, numa planta, mas em alguns casos há produção de elementos voláteis que vão “avisar” uma planta próxima que se deve proteger. As plantas são de facto bastante sofisticadas.
Há um trabalho de colegas alemães, que ainda não está publicado, que mostra que as plantas reconhecem até outras plantas como “estranhas”, como no caso das plantas parasitas que crescem sobre as outras. A planta que está a ser infestada consegue identificar a outra planta como perigosa usando o mesmo sistema molecular.
— Então a planta reage contra tudo o que lhe seja perigoso?
Não só contra patogéneos, mas contra micróbios em geral. Isto explica porque é que as doenças das plantas são tão raras na natureza – apenas um pequeno número de patogéneos evoluíram de forma a infetar uma planta específica. Por exemplo, um micróbio pode afetar um tomateiro, mas não a planta da batata que está ao lado. O patogéneo pode ter evoluído juntamente com o tomateiro de forma a bloquear o sistema imunitário desta planta e não de outra qualquer. Outro exemplo, um patogéneo de um pinheiro não é capaz de infetar um carvalho, mesmo que as duas árvores estejam próximas.
Quando temos um micróbio que não é visto como patogénico, provavelmente isso acontece porque o sistema consegue bloqueá-lo, logo ele não causa a doença. A doença é, de facto, a exceção. Apenas alguns poucos micróbios co-evoluíram o suficiente com determinadas espécies de plantas de forma a conseguir infetá-las.
— E nos casos em que as bactérias e os fungos mantém relações simbióticas com as simbióticas?
Muita da investigação, neste momento, centra-se nesta questão: como é que a planta distingue entre os micróbios patogénicos e os “amigos” (simbiontes)? O que sabemos é que os simbiontes – sejam fungos, como as micorrizas, ou bactérias do género Rhizobium – produzem sinais que são reconhecidos pelas plantas e que desencadeiam um programa simbiótico nas plantas, para estabelecer esta relação. Mas ao mesmo tempo, estes micróbios são reconhecidos pelo sistema imunitário.
Neste momento não sabemos se há uma função da estratégia simbiótica que suprime o sistema imunitário e/ou se o simbionte desenvolveu uma maneira se escapar ao reconhecimento do sistema imunitário. Mas sabemos que em alguns casos, o simbionte não é reconhecido pelo sistema imunitário. Como? É o que muitas pessoas querem descobrir. Será que não produzem as moléculas que são reconhecidas pelo sistema imunitário? Será que produzem estas moléculas, mas também produzem algo mais que bloqueia este reconhecimento? Ou o reconhecimento dos sinais simbióticos bloqueia o reconhecimento dos sinais pelo sistema imunitário? Atenção, que estas hipóteses não são mutuamente exclusivas.
— E outros organismos, como as bactérias, têm imunidade inata?
Há grupos que estão a começar a estudar como é que os fungos detetam as bactérias. O que é claro é que, mesmo os organismos unicelulares, têm alguma forma de se defenderem contra os agressores.
O sistema CRISP, que permitiu recentemente os avanços na engenharia genética, não foi descoberto com este objetivo de manipular os genes, foi descoberto num projeto de investigação sobre como é que as bactérias se defendem dos fagos [tipo de vírus que infeta apenas bactérias]. Descobriu-se que as bactérias conseguem detetar os ácidos nucleicos [a base do material genético] dos fagos, usá-los para reconhecer a presença do vírus e cortar o genoma do vírus em pedaços. Não é um mecanismo semelhante ao das plantas, mas é uma forma de imunidade, é uma forma da bactéria se defender.
Se pensarmos bem, os antibióticos existem para uma bactéria matar outra bactéria, para proteger o seu nicho ecológico. Também são uma forma de imunidade, uma forma de matar ou bloquear algo que não pertence ao organismo. É claro que é importante para qualquer organismo defender-se contra algo diferente. Se não for suficiente para bloquear uma infeção, pelo menos que seja suficiente para proteger o nicho ecológico. Não sei se os antibióticos são produzidos porque uma bactéria consegue sentir a presença da outra ou se está constantemente a produzi-lo, mas tudo isto são formas de imunidade.
— Existem plantas com um sistema imunitário mais forte do que outras?
É difícil comparar espécies diferentes de plantas, mas o que tem sido feito na agricultura há milhares de anos é selecionar diferentes variedades de plantas que podem ser mais resistentes a um ou outro patogéneo. O grande trabalho dos reprodutores de plantas é criar variedades que sejam mais resistentes a determinadas condições, por exemplo aproveitando uma característica de uma variedade selvagem que é naturalmente mais resistente a um determinado patogéneo. Não é necessariamente um sistema imunitário melhor, é a capacidade de reconhecer as diferentes moléculas do patogéneo, ter diferentes recetores.
— Quer dizer que este tipo de investigação pode trazer benefícios para a produção agrícola?
Trabalhamos com a indústria e com organizações públicas em todo o mundo para melhorar as resistências nas colheitas. Uma das formas é ajudar a encontrar variedades que sejam mais resistentes ou que sejam capazes de dar uma resposta imunitária mais forte e depois fornecer aos criadores marcadores moleculares para saberem o que será transferido nos cruzamentos clássicos. Isto funciona na perceção de novos recetores, mas também na força da resposta imunitária.
Outra abordagem, mais direta, é usar plantas transgénicas. Identificámos alguns recetores do sistema imunitário muito bons em algumas espécies, mas que não podem ser transferidos para outras plantas pelo cruzamento clássico porque já são muito distantes [em termos evolutivos]. Aqui usamos podemos usar uma abordagem transgénica que expresse este recetor do sistema imunitário de uma espécie noutra. Já mostrámos que isto funciona, que o recetor está a funcionar, que consegue reconhecer os micróbios e que a planta fica mais resistente à doença.
— O que sabemos sobre a imunidade nas plantas pode, de alguma forma, ser usado na saúde humana?
Não diretamente. Existem algumas ligações conceptuais entre a imunidade nas plantas e nos animais, mas os componentes em si mesmo não são conservados [não são idênticos]. Portanto, é pouco provável que um composto que seja identificado nas plantas, funcione em humanos.
Talvez possamos ligar a investigação diretamente caso haja alguns elementos conservados ou com uma função molecular conservada. Por exemplo, se identificarmos um químico que funcione como inibidor da planta ou dos patogéneos, então, talvez possamos usar o mesmo químico para combater a infeção em humanos.
Os compostos das plantas podem, eventualmente, ser usados como antimicrobianos em humanos, mas é preciso garantir que este composto gerado pela planta para combater um patogéneo associado a plantas também funciona contra os patogéneos associados a humanos. A verdade é que os patogéneos são tão específicos que não haverá muitos que possam infetar tanto plantas como humanos.
Outro ponto interessante, e que muitas pessoas tendem a esquecer, é que as plantas são, muitas vezes, um vetor para doenças transmitidas por alimentos, como quando ficamos com uma intoxicação alimentar devido a uma alface mal lavada. As mesmas técnicas que são usadas para tornar uma planta mais resistente, também podem ser usadas para tornar as plantas que comemos piores vetores para estas doenças. Por exemplo, este patogéneo da alface mal lavada, não infeta a planta, mas mantém-se presente porque é tolerado por esta. Se conseguirmos que a alface reconheça o patogéneo de forma eficaz – neste caso a bactériaEscherichia coli -, então vamos reduzir a incidência de doenças transmitidas por alimentos.
— Que projetos têm a decorrer neste momento no laboratório que coordena?
Muitos. Tenho um grupo grande. A nossa investigação centra-se na sinalização – é mesmo investigação fundamental. Mas não é específica para a imunidade, é mais geral: como é que uma célula percebe algo que se passa no exterior da célula e como é que isso leva à ativação de um sistema de sinalização e resposta. O meu trabalho é sobre uma classe de recetores, que se localizam na superfície das células, mas outra classe de recetores do sistema imunitário inato nas plantas está dentro das células.
No nosso caso, o sinal é o perigo representado pelos patogéneos e a resposta é imunitária. Grande parte do nosso trabalho é perceber como é que isto acontece a nível molecular, como é que os recetores reconhecem os ligandos [moléculas], como é que os recetores são ativados e uma vez ativados como é que se dá a resposta.
Outro dos nossos interesses é compreender como é que as células das plantas percebem todos estes sinais diferentes e conseguem dar uma resposta específica no interior da célula. Como é que as células são todas capazes de reconhecer micróbios, mas ao mesmo tempo continuam a crescer e a desenvolver-se, e como se garante que existem recursos suficientes para todas estas funções Promover a resposta imunitária tem custos energéticos para a planta, por isso queremos perceber como é que a planta escolhe entre defender-se ou crescer e em que condições escolhe crescer em vez de se defender, por exemplo. Não estamos apenas a registar se isto acontece ou não, mas a analisar como acontece a nível molecular. Há algumas plantas que optam pela morte celular localizada das células que estão infetadas para impedir que a infeção se espalhe. É uma forma extrema de resposta imunitária, mas é eficiente para controlar a infeção.
Existe ainda uma outra área de investigação. Sabemos, pelo genoma das plantas, que existem, potencialmente, muitos tipos de recetores do sistema imunitário, mas apenas conhecemos alguns. Por isso estamos a tentar encontrar cada vez mais recetores imunitários para podermos compreender melhor o sistema imune e perceber como podemos usar esta informação para aumentar a resistência em plantas de cultivo.
Encontramos, com frequência, moléculas que são características de um grande grupo de patogéneos. Uma das moléculas com a qual trabalhamos, e que é reconhecida pela planta, está presente em todas as bactérias. Se a planta a reconhecer sabe que tem uma bactéria próxima, mas não distingue entre diferentes bactérias. Outras moléculas são mais específicas, por exemplo de um grupo particular de bactérias. Neste momento não conhecemos o repertório de cada planta, mas acreditamos que seja muito grande.
— E onde espera que a investigação que realiza chegue nos próximos cinco anos?
Estamos cada vez mais envolvidos na compreensão dos mecanismos de sinalização. As descobertas nesta área vão significar, não só que o sistema imunitário está a funcionar, mas que globalmente todos estes tipos de recetores estão a funcionar nas plantas.
Esperamos conseguir ligar a forma como a planta reconhece um micróbio à forma como o mata. E isto deve manter-nos ocupados nos próximos dez anos. Adicionalmente, tentamos, cada vez mais, identificar estes recetores imunitários de forma a transferir a investigação para aplicação. E isto vai crescer nos próximos cinco ou dez anos.
Queremos transferir as descobertas básicas, para fazer uma diferença no mundo e melhorar a segurança alimentar, porque os patogéneos são uma das maiores ameaças à produção alimentar. Estas ameaças podem tornar-se mais graves devido às alterações climáticas – os patogéneos restritos a uma região podem avançar para outras regiões porque o clima se torna mais ameno -, os patogéneos estão a tornar-se mais resistentes a alguns químicos que costumavam ser eficazes e começa a existir uma escassez destes químicos, também ligado ao facto de muitos dos químicos mais eficazes terem sido proibidos.
Tudo junto e estamos a caminhar para uma catástrofe, porque temos cada vez menos maneiras de defender as colheitas e precisamos de mais alimentos. A população mundial está a crescer, e temos de encontrar soluções, que não passam necessariamente pelo uso de químicos – muitos são tóxicos e dispendiosos. Uma maneira de melhorar a resistência é usar a capacidade inata da planta para se defender e isto pode ser conseguido pelos cruzamentos clássicos ou por engenharia genética.
(In: http://observador.pt/especiais/as-plantas-sistema-imunitario-importante-saude/; 2016/04/10)
Há 20 anos ainda ninguém falava sobre a imunidade nas plantas: ou não era conhecida ou, simplesmente, a comunidade científica não a aceitava como possível. “Neste momento deve ser uma das áreas mais competitivas em investigação de plantas na Europa”, disse ao Observador Cyril Zipfel. O investigador considera este tema um “assunto fascinante”, mas quando iniciou o seu percurso académico não poderia imaginar que ele próprio seria uma referência na área.
“A grande conquista da minha carreira foi a demonstração de que as plantas usam os mesmos recetores que a imunidade inata nos animais para vencer os micróbios”, contou o diretor do Laboratório Sainsbury, no Reino Unido. “Há 10 ou 20 anos isto não era aceite pela comunidade científica. O que temos feito nos últimos 10 ou 15 anos é demonstrar que este sistema é realmente antigo, que é conservado em todos os reinos, e que é realmente muito importante para permitir que os organismos se defendam.”
Cyril Zipfel explicou ao Observador que “a imunidade inata é muito antiga”, existindo, muito provavelmente, nos vários grupos de organismos, ainda que tenha evoluído de uma forma independente em cada um deles. A base desta imunidade inata, e a semelhança entre os vários grupos, é que os organismos são capazes de reconhecer uma molécula, uma célula, um organismo (ou parte dele), como estranhos e reagir de forma a defenderem-se.
“Foram precisos muitos anos e o trabalho de muitos laboratórios para convencer a comunidade científica de que a imunidade inata não só existia, como era importante”, referiu o investigador que agora lidera um grupo que trabalha sobretudo na base molecular da imunidade inata das plantas. “Agora está estabelecido, está em manuais escolares, é ensino nas universidades e tornou-se uma área de investigação muito ativa e competitiva.”
O investigador esteve em Portugal, a convite do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, da Universidade Nova de Lisboa, num semináriodirigido aos alunos do primeiro ano dos programas doutorais do instituto. “É sempre bom falar com os alunos”, referiu o professor. “Eram alunos do primeiro ano que ainda têm de escolher um projeto e o que querem fazer depois. Foi interessante discutir como eles como tomam estas decisões.” E o próprio Cyril Zipfel, como terá ele tomado a decisão de seguir esta área científica?
— Como decidiu que queria trabalhar com o sistema imunitário das plantas?
Na verdade, fiz um percurso um pouco estranho. Estudei Biologia geral em Estrasburgo, durante dois anos, mas depois quis mudar para ser um engenheiro florestal, como o meu avô e o meu tio. Fui para Nancy estudar Ecologia Florestal, mas odiei. O bom deste curso – e de todos os cursos em Nancy – é que, entre os dois anos, tínhamos de passar o verão no laboratório, a fazer um estágio. Felizmente, o laboratório para onde fui, tinha um projeto que era mais molecular. Gostei mesmo do projeto em que participei e durante o verão decidi que não queria voltar a estudar Ecologia Florestal, por isso pedi para trocar de curso. Normalmente, não é possível, mas eu tinha boas notas. Queria seguir uma via de estudos em Biologia Molecular, mas não tinha conhecimentos de base (os do primeiro ano). Disseram-me: “Podes fazê-lo, mas se falhares a culpa não é nossa”. Eu fiz e resultou.
Depois fui fazer um mestrado em Paris em Biologia Molecular Vegetal – este, sim, realmente especializado em plantas. [Em 2001,] entrei num programa de doutoramento internacional num instituto de biomedicina em Basileia, na Suíça. Éramos um grupo pequeno dedicado às plantas, mas era bom estar sempre exposto ao trabalho que se fazia em cancro ou imunologia. Comecei a trabalhar com imunidade das plantas no meu doutoramento e nunca mais parei. Um ou dois anos antes de começar o doutoramento, aquele laboratório tinha feito uma descoberta importante: identificaram um dos primeiros imunorrecetores em plantas. Depois esta área cresceu. Eu estava lá no momento certo.
Trabalhei com plantas por acaso. Nunca houve uma razão principal para trabalhar com plantas. A única coisa que sempre me motivou foi “sinalização”, em qualquer sistema. É fascinante ver como uma célula pode reconhecer um sinal e transmitir esta informação. Isto sempre me entusiasmou. Depois do doutoramento considerei continuar a investigar imunidade, mas deixar as plantas. Mas tive a oportunidade de ficar bem colocado em Inglaterra para fazer um pós-doutoramento em imunidade de plantas e depois fiquei com um lugar de coordenador de grupo de investigação no mesmo instituto.
— A imunidade inata das plantas pode ser comparada com a imunidade inata nos animais?
Conceptualmente é semelhante. Não interessa se é um inseto, um rato, um humano ou uma planta, o organismo tem de ter capacidade para identificar uma coisa que seja potencialmente perigosa, seja um micróbio ou algo do próprio organismo que normalmente não está presente. Todos os organismos têm imunidade inata, que é a forma mais comum de os organismos se defenderem. As plantas não têm imunidade adquirida [não produzem anticorpos, nem têm células de memória, como os humanos, por exemplo].
Quando nos cortamos há libertação de algumas moléculas que sinalizam que aconteceu algo “perigoso”. As plantas têm um sistema semelhante: em resposta a lesões também vão desencadear respostas que são semelhantes às do [nosso] sistema imune. Não são exatamente as mesmas proteínas, mas têm muitas semelhanças, usam mecanismos biomecânicos idênticos.
— E o que é exatamente esta imunidade inata nas plantas?
Não confere memória. O poder da imunidade adquirida é esse: se somos expostos a um micróbio quando somos crianças, vamos ser imunes a esse micróbio toda a vida. A imunidade inata é uma resposta desencadeada no momento. Se nos cortamos e uma bactéria entrar na ferida é reconhecida imediatamente e induz uma resposta.
Uma deteção local, naquele instante, é o que acontece nas plantas. Vai desencadear uma série de respostas imunes para restringir o crescimento do patogéneo. Às vezes não é suficiente para parar a infeção, mas vai reduzi-la. Mas não é adaptável. A bateria de recetores que temos está connosco desde que nascemos (assim como nas plantas, insetos ou outros invertebrados). Já a imunidade adquirida é moldada pelos micróbios a que somos expostos ao longo da vida.
A resposta inicial vem sempre, quer seja um patogéneo ou não. O mecanismo limita-se a dizer à planta que há algo que não lhe pertence, que lhe é estranho: “Há qualquer coisa perto de mim, que não sou eu, e que é potencialmente perigoso”.
A planta induz uma série de respostas imunitárias, que podemos medir. Algumas demoram alguns minutos, outras algumas horas. Um dos exemplos são os radicais de oxigénio, que são potencialmente tóxicos para os micróbios. A grande diferença entre as células vegetais e as células animais é que as células vegetais estão rodeadas por uma parede celular e caso estejam perante um patogéneo, podem reforçar esta parede, que é uma resposta local.
Também há produção de metabolitos secundários, compostos tóxicos ou antimicrobianos, que vão restringir o crescimento ou matar o patogéneo. Sabemos que tudo isto acontece, mas não sabemos qual o mecanismo mais importante, o que está realmente a afetar os patogéneos.
— A imunidade inata nas plantas é mediada por células ou por moléculas?
Por ambos. A grande diferença entre animais e plantas, em termos de sistema imunitário inato, é que as plantas não têm células móveis. Nós temos células móveis que são especializadas em imunidade, mas nas plantas as células são todas capazes de reconhecer micróbios. Não há células especializadas, à partida, todas as células são capazes de reconhecimento imunitário. Em todas as plantas.
Isto é suficiente para mediar o reconhecimento localmente: a célula percebe imediatamente um micróbio que se encontre por perto. Mas também há um sinal que percorre toda a planta, desde o ponto em que entrou em contacto com o micróbio, e que faz com que toda ela fique imune. A resposta imunitária não é só local, mas sistémica.
A resposta local é imediata, demora alguns milissegundos. A indução da resposta imunitária noutros pontos da plantas pode levar algumas horas, porque é preciso sintetizar os sinais, estes têm de ser transportados e têm de ser reconhecidos. É para isso que serve a resposta imunitária sistémica: se um perigo é detetado num local da planta, outro pronto está preparado para dar resposta. Mas mesmo que isto demore alguns dias, a resposta imunitária que é dada só será eficaz durante alguns dias, é temporária.
As células das plantas estão ligadas umas às outras por plasmodesmata [canais microscópicos na parede celular]. Esta é uma forma de comunicação entre células que permite a passagem dos sinais. Adicionalmente, os sinais podem ser produzidos no exterior da células e ser propagados pelo espaço intercelular [entre as células], onde se liga depois a recetores no exterior das células. Estes sinais também podem ser transportados pelo tecido vascular [vasos condutores], como acontece com o nosso sistema circulatório. A identidade dos sinais ainda é altamente controversa, ainda não se sabe bem o que está a ser transportado.
— A reação aos micróbios é a única forma de desencadear esta resposta imunitária?
Esta resposta é desencadeada por micróbios – bactérias ou fungos, por exemplo -, mas também com insetos. De facto, este sistema imunitário foi descoberto graças aos herbívoros. Quando eles começavam a comer uma folha, a resposta podia ser detetada noutro ponto da planta.
Isto acontece localmente, numa planta, mas em alguns casos há produção de elementos voláteis que vão “avisar” uma planta próxima que se deve proteger. As plantas são de facto bastante sofisticadas.
Há um trabalho de colegas alemães, que ainda não está publicado, que mostra que as plantas reconhecem até outras plantas como “estranhas”, como no caso das plantas parasitas que crescem sobre as outras. A planta que está a ser infestada consegue identificar a outra planta como perigosa usando o mesmo sistema molecular.
— Então a planta reage contra tudo o que lhe seja perigoso?
Não só contra patogéneos, mas contra micróbios em geral. Isto explica porque é que as doenças das plantas são tão raras na natureza – apenas um pequeno número de patogéneos evoluíram de forma a infetar uma planta específica. Por exemplo, um micróbio pode afetar um tomateiro, mas não a planta da batata que está ao lado. O patogéneo pode ter evoluído juntamente com o tomateiro de forma a bloquear o sistema imunitário desta planta e não de outra qualquer. Outro exemplo, um patogéneo de um pinheiro não é capaz de infetar um carvalho, mesmo que as duas árvores estejam próximas.
Quando temos um micróbio que não é visto como patogénico, provavelmente isso acontece porque o sistema consegue bloqueá-lo, logo ele não causa a doença. A doença é, de facto, a exceção. Apenas alguns poucos micróbios co-evoluíram o suficiente com determinadas espécies de plantas de forma a conseguir infetá-las.
— E nos casos em que as bactérias e os fungos mantém relações simbióticas com as simbióticas?
Muita da investigação, neste momento, centra-se nesta questão: como é que a planta distingue entre os micróbios patogénicos e os “amigos” (simbiontes)? O que sabemos é que os simbiontes – sejam fungos, como as micorrizas, ou bactérias do género Rhizobium – produzem sinais que são reconhecidos pelas plantas e que desencadeiam um programa simbiótico nas plantas, para estabelecer esta relação. Mas ao mesmo tempo, estes micróbios são reconhecidos pelo sistema imunitário.
Neste momento não sabemos se há uma função da estratégia simbiótica que suprime o sistema imunitário e/ou se o simbionte desenvolveu uma maneira se escapar ao reconhecimento do sistema imunitário. Mas sabemos que em alguns casos, o simbionte não é reconhecido pelo sistema imunitário. Como? É o que muitas pessoas querem descobrir. Será que não produzem as moléculas que são reconhecidas pelo sistema imunitário? Será que produzem estas moléculas, mas também produzem algo mais que bloqueia este reconhecimento? Ou o reconhecimento dos sinais simbióticos bloqueia o reconhecimento dos sinais pelo sistema imunitário? Atenção, que estas hipóteses não são mutuamente exclusivas.
— E outros organismos, como as bactérias, têm imunidade inata?
Há grupos que estão a começar a estudar como é que os fungos detetam as bactérias. O que é claro é que, mesmo os organismos unicelulares, têm alguma forma de se defenderem contra os agressores.
O sistema CRISP, que permitiu recentemente os avanços na engenharia genética, não foi descoberto com este objetivo de manipular os genes, foi descoberto num projeto de investigação sobre como é que as bactérias se defendem dos fagos [tipo de vírus que infeta apenas bactérias]. Descobriu-se que as bactérias conseguem detetar os ácidos nucleicos [a base do material genético] dos fagos, usá-los para reconhecer a presença do vírus e cortar o genoma do vírus em pedaços. Não é um mecanismo semelhante ao das plantas, mas é uma forma de imunidade, é uma forma da bactéria se defender.
Se pensarmos bem, os antibióticos existem para uma bactéria matar outra bactéria, para proteger o seu nicho ecológico. Também são uma forma de imunidade, uma forma de matar ou bloquear algo que não pertence ao organismo. É claro que é importante para qualquer organismo defender-se contra algo diferente. Se não for suficiente para bloquear uma infeção, pelo menos que seja suficiente para proteger o nicho ecológico. Não sei se os antibióticos são produzidos porque uma bactéria consegue sentir a presença da outra ou se está constantemente a produzi-lo, mas tudo isto são formas de imunidade.
— Existem plantas com um sistema imunitário mais forte do que outras?
É difícil comparar espécies diferentes de plantas, mas o que tem sido feito na agricultura há milhares de anos é selecionar diferentes variedades de plantas que podem ser mais resistentes a um ou outro patogéneo. O grande trabalho dos reprodutores de plantas é criar variedades que sejam mais resistentes a determinadas condições, por exemplo aproveitando uma característica de uma variedade selvagem que é naturalmente mais resistente a um determinado patogéneo. Não é necessariamente um sistema imunitário melhor, é a capacidade de reconhecer as diferentes moléculas do patogéneo, ter diferentes recetores.
— Quer dizer que este tipo de investigação pode trazer benefícios para a produção agrícola?
Trabalhamos com a indústria e com organizações públicas em todo o mundo para melhorar as resistências nas colheitas. Uma das formas é ajudar a encontrar variedades que sejam mais resistentes ou que sejam capazes de dar uma resposta imunitária mais forte e depois fornecer aos criadores marcadores moleculares para saberem o que será transferido nos cruzamentos clássicos. Isto funciona na perceção de novos recetores, mas também na força da resposta imunitária.
Outra abordagem, mais direta, é usar plantas transgénicas. Identificámos alguns recetores do sistema imunitário muito bons em algumas espécies, mas que não podem ser transferidos para outras plantas pelo cruzamento clássico porque já são muito distantes [em termos evolutivos]. Aqui usamos podemos usar uma abordagem transgénica que expresse este recetor do sistema imunitário de uma espécie noutra. Já mostrámos que isto funciona, que o recetor está a funcionar, que consegue reconhecer os micróbios e que a planta fica mais resistente à doença.
— O que sabemos sobre a imunidade nas plantas pode, de alguma forma, ser usado na saúde humana?
Não diretamente. Existem algumas ligações conceptuais entre a imunidade nas plantas e nos animais, mas os componentes em si mesmo não são conservados [não são idênticos]. Portanto, é pouco provável que um composto que seja identificado nas plantas, funcione em humanos.
Talvez possamos ligar a investigação diretamente caso haja alguns elementos conservados ou com uma função molecular conservada. Por exemplo, se identificarmos um químico que funcione como inibidor da planta ou dos patogéneos, então, talvez possamos usar o mesmo químico para combater a infeção em humanos.
Os compostos das plantas podem, eventualmente, ser usados como antimicrobianos em humanos, mas é preciso garantir que este composto gerado pela planta para combater um patogéneo associado a plantas também funciona contra os patogéneos associados a humanos. A verdade é que os patogéneos são tão específicos que não haverá muitos que possam infetar tanto plantas como humanos.
Outro ponto interessante, e que muitas pessoas tendem a esquecer, é que as plantas são, muitas vezes, um vetor para doenças transmitidas por alimentos, como quando ficamos com uma intoxicação alimentar devido a uma alface mal lavada. As mesmas técnicas que são usadas para tornar uma planta mais resistente, também podem ser usadas para tornar as plantas que comemos piores vetores para estas doenças. Por exemplo, este patogéneo da alface mal lavada, não infeta a planta, mas mantém-se presente porque é tolerado por esta. Se conseguirmos que a alface reconheça o patogéneo de forma eficaz – neste caso a bactériaEscherichia coli -, então vamos reduzir a incidência de doenças transmitidas por alimentos.
— Que projetos têm a decorrer neste momento no laboratório que coordena?
Muitos. Tenho um grupo grande. A nossa investigação centra-se na sinalização – é mesmo investigação fundamental. Mas não é específica para a imunidade, é mais geral: como é que uma célula percebe algo que se passa no exterior da célula e como é que isso leva à ativação de um sistema de sinalização e resposta. O meu trabalho é sobre uma classe de recetores, que se localizam na superfície das células, mas outra classe de recetores do sistema imunitário inato nas plantas está dentro das células.
No nosso caso, o sinal é o perigo representado pelos patogéneos e a resposta é imunitária. Grande parte do nosso trabalho é perceber como é que isto acontece a nível molecular, como é que os recetores reconhecem os ligandos [moléculas], como é que os recetores são ativados e uma vez ativados como é que se dá a resposta.
Outro dos nossos interesses é compreender como é que as células das plantas percebem todos estes sinais diferentes e conseguem dar uma resposta específica no interior da célula. Como é que as células são todas capazes de reconhecer micróbios, mas ao mesmo tempo continuam a crescer e a desenvolver-se, e como se garante que existem recursos suficientes para todas estas funções Promover a resposta imunitária tem custos energéticos para a planta, por isso queremos perceber como é que a planta escolhe entre defender-se ou crescer e em que condições escolhe crescer em vez de se defender, por exemplo. Não estamos apenas a registar se isto acontece ou não, mas a analisar como acontece a nível molecular. Há algumas plantas que optam pela morte celular localizada das células que estão infetadas para impedir que a infeção se espalhe. É uma forma extrema de resposta imunitária, mas é eficiente para controlar a infeção.
Existe ainda uma outra área de investigação. Sabemos, pelo genoma das plantas, que existem, potencialmente, muitos tipos de recetores do sistema imunitário, mas apenas conhecemos alguns. Por isso estamos a tentar encontrar cada vez mais recetores imunitários para podermos compreender melhor o sistema imune e perceber como podemos usar esta informação para aumentar a resistência em plantas de cultivo.
Encontramos, com frequência, moléculas que são características de um grande grupo de patogéneos. Uma das moléculas com a qual trabalhamos, e que é reconhecida pela planta, está presente em todas as bactérias. Se a planta a reconhecer sabe que tem uma bactéria próxima, mas não distingue entre diferentes bactérias. Outras moléculas são mais específicas, por exemplo de um grupo particular de bactérias. Neste momento não conhecemos o repertório de cada planta, mas acreditamos que seja muito grande.
— E onde espera que a investigação que realiza chegue nos próximos cinco anos?
Estamos cada vez mais envolvidos na compreensão dos mecanismos de sinalização. As descobertas nesta área vão significar, não só que o sistema imunitário está a funcionar, mas que globalmente todos estes tipos de recetores estão a funcionar nas plantas.
Esperamos conseguir ligar a forma como a planta reconhece um micróbio à forma como o mata. E isto deve manter-nos ocupados nos próximos dez anos. Adicionalmente, tentamos, cada vez mais, identificar estes recetores imunitários de forma a transferir a investigação para aplicação. E isto vai crescer nos próximos cinco ou dez anos.
Queremos transferir as descobertas básicas, para fazer uma diferença no mundo e melhorar a segurança alimentar, porque os patogéneos são uma das maiores ameaças à produção alimentar. Estas ameaças podem tornar-se mais graves devido às alterações climáticas – os patogéneos restritos a uma região podem avançar para outras regiões porque o clima se torna mais ameno -, os patogéneos estão a tornar-se mais resistentes a alguns químicos que costumavam ser eficazes e começa a existir uma escassez destes químicos, também ligado ao facto de muitos dos químicos mais eficazes terem sido proibidos.
Tudo junto e estamos a caminhar para uma catástrofe, porque temos cada vez menos maneiras de defender as colheitas e precisamos de mais alimentos. A população mundial está a crescer, e temos de encontrar soluções, que não passam necessariamente pelo uso de químicos – muitos são tóxicos e dispendiosos. Uma maneira de melhorar a resistência é usar a capacidade inata da planta para se defender e isto pode ser conseguido pelos cruzamentos clássicos ou por engenharia genética.
(In: http://observador.pt/especiais/as-plantas-sistema-imunitario-importante-saude/; 2016/04/10)
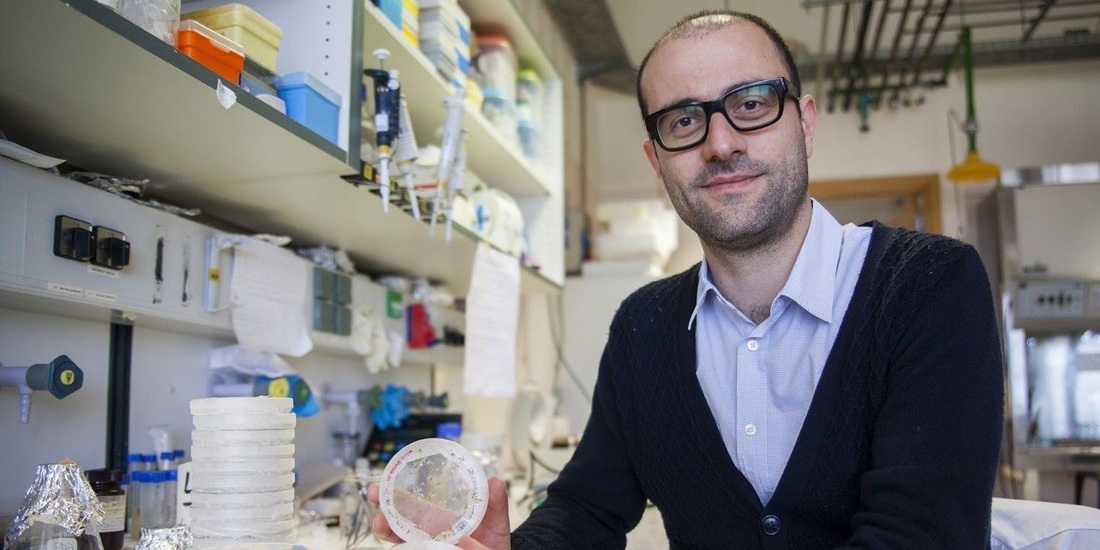


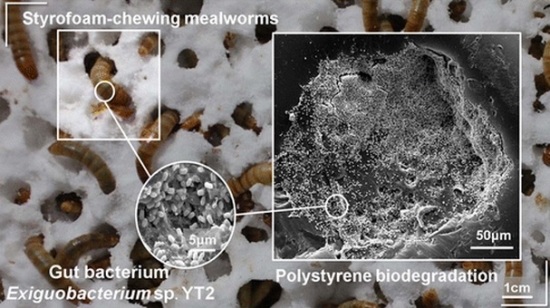


 Feed RSS
Feed RSS